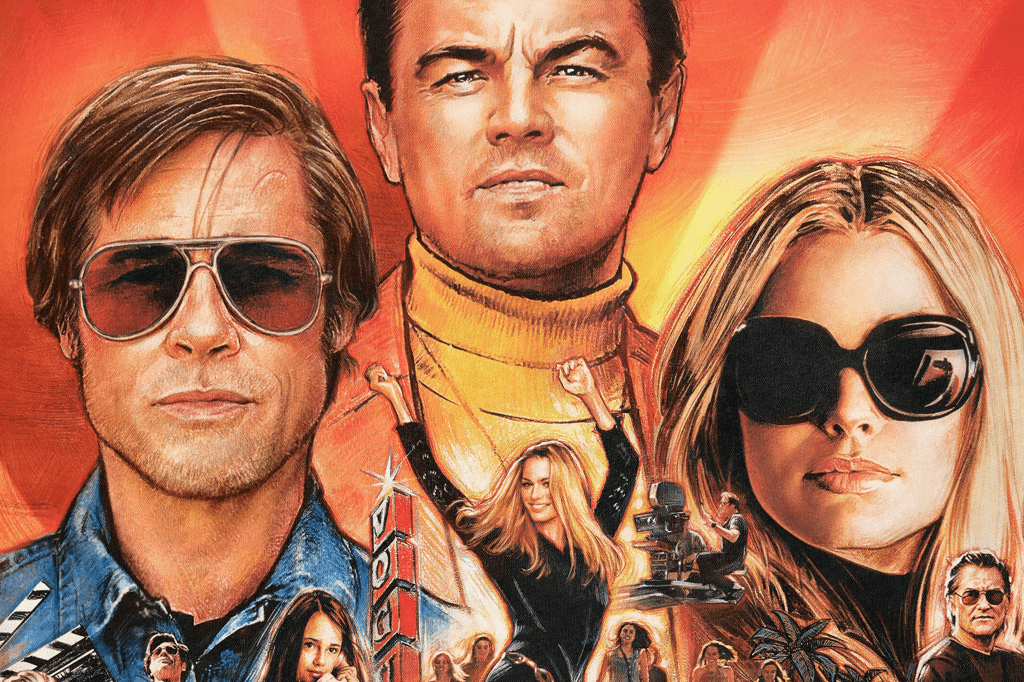Acompanhei a primeira temporada da série “O Conto da Aia” no início de 2019, quando os primeiros instintos mais fortes ligados à causa feminista começavam a aflorar dentro de mim. As cenas eram impactantes, duras de assistir, mas persisti até o fim. Na época, porém, ainda não tinha dimensão real do que tudo aquilo significava.
Passa um ano. Brasil, 2020. Fanatismo religioso. Pandemia. Isolamento social. Acabei, enfim, com um exemplar em mãos do livro que deu origem à série, escrito pela canadense Margaret Atwood.
Eu, a mesma pessoa, mas agora já também com mais de um ano de estudos feministas na bagagem, graças ao projeto desenvolvido junto à minha amiga Carolina Marco, o NÓS (por meio do qual criamos conteúdo gratuito para empoderar mulheres), pude realmente me aprofundar nessa obra crítica brilhante. Talvez equivocadamente chamada de distopia.
O fato é que, a meu ver, o mundo em que vivemos hoje parece tornar-se cada vez mais próximo do cenário da série. Vou explicar o porquê.
Elementos centrais de O Conto da Aia
Distopia, segundo o dicionário, seria uma antítese de utopia. Em outros termos, diz respeito a um estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação (antítese de utopia). Sob tal perspectiva, caso ainda não tenha ouvido falar da série ou do livro, a classificação estaria correta.
Para dar um breve resumo, a história se passa na chamada República de Gileade. Trata-se de uma sociedade estabelecida nas fronteiras do que antes eram os Estados Unidos da América, tomado por um movimento fundamentalista de reconstrução cristã autointitulado “Filhos de Jacó”.
Por meio de um golpe, ele suspende a Constituição sob o pretexto de “restaurar a ordem” social diante de um problema central: o país se encontrava tão poluído e tóxico que a saúde e a fertilidade da maioria da população feminina foi afetada e as mulheres pararam de ter filhos.
Basicamente, o que se passa é que sob o pretexto religioso é criado um Estado completamente totalitário, militarizado, hierárquico e fanático, que distorce textos do Velho Testamento para reorganizar o país sob um elemento central: a reprodução. As mulheres não têm mais a possibilidade de leitura, estudo ou autonomia de qualquer tipo.
Naturalmente, elas acabam divididas em “castas” estabelecidas, claro, por sua capacidade reprodutiva (existente ou inexistente). Cada uma está predestinada a executar uma função. A personagem principal, Offred, faz parte do grupo das Aias – mulheres obrigadas a se vestirem de vermelho e copularem com os Comandantes das casas que habitam, cujas esposas já são inférteis.
Mas há também as mulheres destinadas à limpeza e aos serviços domésticos, por exemplo. Cada uma na sua “caixinha”, no seu papel. Odiando – ou invejando – a outra pelo que ela ocupa. São justamente esses elementos sutis da narrativa que parecem transformá-la não mais em algo distópico. Mas, sim, em algo próximo da realidade de todas as mulheres, independentemente da classe social.
Na verdade, O Conto da Aia simplesmente mistura aspectos já existentes e fortíssimos da opressão à mulher e imagina-os levados à máxima potência.
Violência que transparece nas palavras
Tive o insight de que o livro não era totalmente imaginativo justamente porque palavras são muito expressivas. Como a obra inteira é narrada em primeira pessoa, fui capaz de sentir o mesmo que Offred em diversos aspectos de sua descrição quanto à objetificação de seu corpo, os olhares de julgamento de outras mulheres e a educação estruturada com base na cultura de estupro, que tende a culpabilizar as vítimas pelos abusos.
Tomei a liberdade de expor, aqui, alguns trechos diretos que corroboram o que digo. Por exemplo: quando, no Centro de Treinamento ao qual às mulheres são enviadas assim que a República de Gilead é estabelecida, as “Tias” (espécies de freiras treinadoras) lhe fazem uma lavagem cerebral para que se submetam ao regime.
“Janine está contando como foi currada por uma gangue aos catorze anos e fez um aborto. (…) – Mas de quem foi a culpa?, diz Tia Helena, levantando o dedo roliço. ‘Foi dela, foi dela, foi dela, entoamos em uníssono.’ ‘Quem os seduziu?’, Tia Helena sorri radiante, satisfeita conosco. ‘Ela seduziu. Ela seduziu. Ela seduziu. ‘Por que Deus permitiu que uma coisa tão terrível acontecesse? ‘Para lhe ensinar uma lição. Para lhe ensinar uma lição. Para lhe ensinar uma lição. Na semana passada, Janine explodiu em lágrimas. (…) Nesta semana, ela nem espera que comecemos com as zombarias. ‘Foi minha própria culpa’, diz ela. Foi minha própria culpa. Eu os incitei, os seduzi. Mereci o sofrimento’. ‘Muito bem, Janine’, diz Tia Lydia. Você é um exemplo.”
Forte, não é?
Ou esta descrição de como Offred se sente em relação ao seu próprio corpo:
“Eu costumava pensar em meu corpo como um instrumento de prazer, ou um meio de transporte, ou um implemento para a realização de minha vontade. Eu podia usá-lo para correr, apertar botões deste ou daquele tipo, fazer coisas acontecerem. Havia limites. Mas meu corpo era, apesar disso, flexível, sólido, parte de mim. Agora, a carne se arruma de forma diferente. Sou uma nuvem.”
Ok, não podemos dizer que a realidade atual do Brasil está nesse nível de totalitarismo, obviamente. Mas, se você for mulher, provavelmente vai se identificar com algumas sensações evocadas pelo livro. Talvez sinta alguma cosquinha engraçada que lhe diga: já experimentei tal sentimento. Ou, inclusive, “já julguei outra mulher assim”.
Foi muito interessante que, quando terminei a leitura, compartilhei lá no meu Instagram justamente a perspectiva de que “O Conto da Aia” não é uma distopia. A Mariana Blauth, que foi minha colega na faculdade de Jornalismo e hoje coordena um projeto literário super bacana chamado Página Cem, me chamou no inbox e contou:
“Sabia que a própria autora falou em uma entrevista que ela classificaria sua obra como ficção especulativa, não distopia?”
Aí a ficha caiu. De fato, a narrativa do livro não é completamente impossível. Para algumas mulheres, em maior ou menor grau, é uma extensão da realidade. Daí, mais uma vez, a importância da luta feminista: é sobre fazer prevalecer nossos direitos para que a vida se torne melhor para as mulheres – e não pior.
Porque o pior é muito, muito, muito assustador. Como Atwood já alertou em sua fascinante obra-prima que parece distante no tempo, escrita em 1985, mas se torna a cada dia mais atual.
E você, já leu o livro ou acompanhou a série? O que achou? Teve alguma percepção semelhante? Me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber!